Fado Bicha, duo composto por Lila Fadista na voz e João Caçador na guitarra elétrica, têm marcado a sua presença na cena musical pela representação dos corpos e vivências queer, a disrupção com os padrões e normas associadas ao género, tão presentes na sociedade em geral e em especial no fado, e uma agenda que é musical, mas que é inerentemente política, refinando a letra e o canto para uma reflexão daquilo que as rodeia, no país, e no mundo.
No passado dia 29 de fevereiro, Fado Bicha lançou um novo single com o nome “Dar de beber à desventura”, música que é um “manifesto de repúdio ao partido de André Ventura“. Não é por acaso que esta música sai durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas do 10 de março, uma das eleições mais importantes da história da nossa democracia, e em que a única certeza no cenário pós-sufrágio, é que vai haver um crescimento do partido da extrema-direita, Chega, com um número de deputados previstos entre os 40 e os 50. Por isso, “a banda acredita que a classe artística tem o dever de se manifestar e sinalizar a deterioração do discurso público e político em Portugal“ — como se pode ler no press release da música.
Não foi sem demoras que o líder do partido Chega reagiu a esta canção num comício na Figueira da Foz, no dia 2 de março, em que para além de ter insinuado falsamente que haveria uma tentativa de desvirtuar estas eleições em Portugal, falou sobre a música feita por Lila Tiago e João Caçador, fazendo troça do nome da banda e afirmando que “nós estamos a lutar contra tudo isto”, tendo também atacado quem na cultura se insurja contra o seu partido, afirmando que “esta meia dúzia de artistas não são mais que os subsídio-dependentes do pós-25 de Abril que não trabalham e só sabem viver de subsídios do Estado”. Foi assistindo às declarações de André Ventura, que ocuparam quatro minutos do seu discurso, que começámos esta entrevista, pedindo ao duo uma reação e um dando o direito de resposta àquilo que foi dito sobre si.
Gostava de perguntar qual é a vossa reação a ouvir isto.
[Lila Fadista] Eu não vejo quase nada dele, não consigo. Não vejo debates, enfim, mexe muito comigo. Mas quando ouço, e agora ouvi, tento fazer uma décalage emocional para não ficar tão ativada e depois fico só a ouvir e a pensar na estratégia. O que é que esta pessoa escolhe dizer? Como é que ele escolhe comentar as coisas? Que tipo de palavras é que usa? Os conceitos que usa? E com que objetivo? Acho curioso ele conjugar no mesmo argumento que nós somos subsídio-dependentes sem qualquer tipo de conhecimento, o que quer que isso signifique, não é? E que não falamos mal do governo porque somos dependentes do governo, porque o governo é que nos dá dinheiro, através desses subsídios. Mas depois, ao mesmo tempo, foi esse governo que também nos deixou, aos artistas, na miséria, porque não ajudou ninguém no [tempo do] COVID. Ou seja, vale tudo. É um vale tudo. Não estou a conseguir articular muito bem.
[João Caçador] Sim, estás, estás. Diz uma coisa e diz o contrário, na mesma frase… tudo misturado.
[L.F.] E as pessoas aplaudem porque são ideias com as quais as pessoas se chegam numa cena de… as pessoas são reacionárias, não é? As pessoas que seguem o Chega são reacionárias no sentido em que sentem que a sociedade está a evoluir de maneiras que para elas não lhes agrada muito — uma determinada ideia de progresso na qual elas não se revêm por algum motivo, e muitos fatores também da deterioração das coisas que são reais. E depois, obviamente, estão descontentes com uma série de coisas como a deterioração dos serviços públicos, só que depois aparecem estes fascistas inteligentes, e sabem obrar um desvio dessa energia e desse descontentamento, cavalgam-no, e vão alimentando estas ideias de subsídio-dependência, de marxismo cultural, e importa tudo, não é? Dos Estados Unidos e do Brasil.
[J.C.] A nova é o risco de haver corrupção nas eleições. Foi engraçado, porque há uma semana e pouco a Guada [Guadalupe Amaro] fez um post a dizer: “Estou mesmo a ver que daqui a uma semaninha só falta importar a cena do Trump e trazer a questão das eleições”. E nem demorou uma semana, foi mesmo na mouche.
[L.F.] Não vi.
Ele falou sobre os votos no estrangeiro, que tinham até dia 10 de janeiro para se inscrever, e no fundo a argumentação foi que os prazos não estavam bem, e que estavam a impedir as pessoas no estrangeiro de votar, quando na verdade o prazo era esse. Mas depois já estava a passar por um discurso de uma forma geral que há o perigo de as eleições serem ameaçadas…
[L.F.] Pronto, e depois há uma bitransfobia básica que já é… expectável. Da piadinha… Da piadinha com a bicha… “De certeza que nenhum de vocês vai ouvir uma coisa como Fado Bicha”. Mas fiquei a pensar o que é que ele sentirá ouvindo a música toda, e o que é que ele terá sentido.
Sobre a música em questão, vocês já tinham feito uma versão desta música pegando no “vou dar de beber à dor” da Amália, mas os direitos de autor não vos foram concedidos. E eu gostava de perguntar-vos um pouco como é que foi o processo, desde 2020, de construir a música inicial, até à que podemos ouvir hoje — as mudanças que houve na letra, e a construção musical e sonora da música.
[L.F.] Eu escrevi a letra a partir de uma ideia que tivemos ambas em 2020. Foi durante a pandemia. E foi uns meses depois dele ter sido eleito, ele e a Joacine ao mesmo tempo. Lembro-me perfeitamente de estar a ver a televisão, a acompanhar as eleições. E de repente aparece a Joacine Katar Moreira e eu comecei aos saltos, e uns segundos depois, André Ventura.
E tudo isto que se instalou definitivamente na sociedade, no discurso público em Portugal e na política, já se começava a desenhar. Começou-se logo a desenhar mesmo antes de ele ser eleito. E tudo aquilo era muito perturbador para mim. Foi mais ou menos na mesma altura em que escrevi o “Povo pequenino”. E era um bocado uma necessidade de articular uma série de ideias sobre o que é que esta pessoa estava a trazer — a partir dos nossos medos, claro — e tentar fazer uma música. Depois tem essa ideia do “Dar de beber à dor”, porque eu acho piada a essa metáfora de dar de beber uma coisa negativa: a dor. E neste caso à desventura. Usei essa palavra por causa do apelido dele. E acho isso giro. A mim traz-me um imaginário de fortalecimento. E quando eu penso em dar de beber à desventura, penso num grupo de pessoas, amigas, a fortalecerem-se e a beberem ao mesmo tempo. Por acaso, até pensei nisto há pouco tempo, assim, uma espécie de último shot da aguardente antes de ir para a batalha. Então era um bocado essa a metáfora que eu queria buscar. Depois utilizámos aquele fado do Alberto Janes. E era o tentar articular, numa letra de fado, uma série de leituras sobre o comportamento dele, o que ele traz, a maneira como opera. E criar uma cena antifascista clara. Nós não conseguimos não fazer arte sobre isto. Não conseguimos deixar passar. Então pelo menos uma canção teríamos que fazer sobre isto. No final do ano passado, começámos a pensar que era fixe lançar a música. Mesmo antes do governo ter caído, mas já com eles com 12 deputados, e assumindo que o governo do PS não ia chegar ao fim, e que nas próximas eleições, quando quer que fossem, eles ainda iam crescer mais. Então pensámos: temos de lançar isto. Depois eu percebi que parte da letra já não estava adequada e queria pôr ainda mais força. Então comecei a trabalhar no reescrever da letra. Um terço dela está reescrita. Depois pedimos a autorização para usar a letra, mas a música e os herdeiros do Alberto Janes não permitiram, então ficámos… [Suspiro] Tivemos de compor uma nova, mas também passámos logo para um mindset de: “Ok, então vamos compor uma ainda melhor e que sirva melhor a música.”
[J.C.] E depois esse processo foi muito vigorante para a canção e para a letra, o criar do início uma melodia que servisse bem àquela letra. Foi pegar na letra já feita e começar verso a verso. Fomos buscar algumas influências como A garota não. Lembro-me que não conseguíamos muito bem desemburrar, e a Lila disse: “Olha, imagina que era A garota não que ia cantar esta letra”. Então começou por aí a harmonia, depois a Filipe Sambado, o Zé Mário Branco. Trazer aquela canção de intervenção, como fizemos só à viola e com a voz, que vai muito buscar também estes lugares, o Chico Buarque… Não há propriamente harmonias, ou desenhos harmónicos de intervenção, mas há assim uma espécie de energia que vem de lá. Então procurámos trazer isso para esta canção, e com o beat do Moullinex e o arranjo que fizemos as três. Retirou-a desse lugar da intervenção antiga e desenhada com os padrões mais esperados do que é uma canção de intervenção, e fez uma remistura com uma tentativa de olhar para o futuro, e criar uma música e sonoridade nova a partir daquele lugar.
Falaste também do José Mário Branco. Os GAC, grupo coordenado por ele, cantaram a “A cantiga é uma arma”, dizendo na letra que “A cantiga é uma arma,(…) tudo depende da raiva e da alegria”. E eu gostava de perguntar um pouco quais é que foram as emoções que no estiveram presentes na construção desta música.
[J.C.] Para mim, aquilo que me moveu a fazer a canção foi muito uma espécie de desencanto, de olhar à volta e pensar que há uma série de coisas que eu achava que já estavam mais estruturadas, mais construídas de uma forma geral na sociedade: de pensamento, de preparação em relação ao nosso passado e à nossa história para o futuro, e pensar que, nos Estados Unidos, apareceu o Trump, e o Bolsonaro apareceu no Brasil. Mas em Portugal, quando apareceu o Ventura, já tinha aparecido toda a gente antes, já tínhamos visto o que aconteceu em Itália, o que aconteceu em Espanha, em França, nos Estados Unidos, no Brasil. Cair à primeira é uma coisa, cair à segunda é outra. Já temos tanta coisa demonstrada — qual é a retórica, qual é a consequência, quais são os resultados — e parece-me que, de repente, começa tudo a cair, pecinha por pecinha, a alinhar-se outra vez com os mesmos discursos, os recursos, a mesma narrativa, e depois coisas básicas. Por exemplo, a ideologia de género, que veio dos Estados Unidos e do Brasil, aqui ainda podia ter sido um bocadinho mais criativo, mas não, é exatamente a mesma cópia barata e fácil: as fake news, os grupos do WhatsApp, aquela conversa de gritaria…
[L.F.] Funcionou lá, porque é que não haveria de funcionar cá?
[J.C.] Funcionou lá porque ninguém tinha uma referência antes, aqui é uma cena mesmo quase provinciana e básica. Ninguém sabe o que é que se passa lá fora, ninguém viu o que é que se passa lá fora, já aconteceu há 10 anos lá fora, e aqui há novidade, é uma coisa totalmente nova, e surpreendente. Vamos todos cair numa armadilha, não sei, parece-me tão pobre, até meio parolo. Ninguém estava preparado para o que vinha, ninguém sabia, ninguém viu…
[L.F.] Mais até do próprio sistema político, não é? E da comunicação social…
[J.C.] Sim, imagina, a narrativa de que as pessoas tinham de “ah, é melhor não falarmos, não darmos atenção, não fingirmos que não está a acontecer”. No Brasil, essa discussão já foi tida há 5 anos. Lá, antes do Bolsonaro ser eleito, discutia-se se devíamos ignorar ou não o Bolsonaro, se não se devia falar sobre isso ou não, se as pessoas não se deviam chatear, ou se não se deviam posicionar…
Numa parte da vossa letra, referem os ralhetes do Augusto [Santos Silva], dizendo “que a reprovação exige mais pujança”. Como acham que essa reprovação deve acontecer?
[J.C.] Eu lembro-me que só a Ana Gomes é que fez uma queixa, na Procuradoria Geral da República, contra a inconstitucionalidade do Chega, e montes de comentadores das televisões inteiras, maior parte deles de direita, a dizerem que era super injusto se o Chega não pudesse ser um partido. Aquela conversa toda: têm todo o direito, é uma democracia… Essa narrativa é altamente permissiva e validante de um sistema, das próprias televisões e meios de comunicação social que o permitiram. Ainda agora vimos nos programas da manhã, ele foi recebido de uma forma sorridente, a andar de bicicleta, a contar histórias de antigamente com toda a gente a rir, e com aquela conversa de, se nós tivemos todos os partidos, o André Ventura também tem que vir, como se fossem todos iguais, como se partissem todos do mesmo lugar e são só opiniões diferentes. Essa normalização toda que aconteceu, permitiu e permite todos os dias que ele possa existir. Já devíamos ter aprendido nos outros países como é que foi. O que eu acho que devia ter acontecido é nós termos essa ferramenta da memória, que nos faça saber ler como é que isto se desenvolve, e criar mecanismos para, por exemplo, as televisões não permitirem, não quererem, como o Ricardo Araújo Pereira fez no programa dele. Não quis que ele lá fosse e nunca o convidou. A anti-constitucionalidade do partido, quando ele mandou a Joacine Katar Moreira para a terra dela, quando propôs uma proposta de…
[L.F.] De cordão sanitário a pessoas ciganas.
[J.C.] Exatamente. E não haver uma resposta formal e objetiva de exclusão.
[L.F.] Eu quando escrevi essa peça estava a ver especificamente por essas duas coisas, de mandar a Joacine para a terra dela e da proposta. É uma perplexidade imensa. Com todos os defeitos e limitações do regime democrático, como é que é possível uma pessoa eleita na Assembleia da República propor — com estas palavras — que todas as pessoas ciganas façam uma quarentena específica? Para mim é de uma perplexidade inexplicável. Como é que isto é possível?
E era, no fundo, aquilo que estávamos a falar antes da entrevista, sobre a normalização cada vez mais crescente…
[L.F.] Exato. E tentando responder à tua pergunta, como é que um sistema que, felizmente, ainda assim, reconhece isso como inaceitável, reage a isso, tendo uma pessoa destas lá dentro? Eu não sei exatamente, também não sou politóloga, não sei exatamente quais é que são os mecanismos possíveis. Sei que ele cavalga em três eixos ou expectativas: a primeira é em saber que os meios de comunicação social vão querer falar sobre ele, porque é a era do clickbait; a outra expectativa é saber ou intuir que os partidos tradicionais vão escolher não falar, não dar muito palco, nem ter uma estratégia consertada para saber responder a esse tipo de narrativas, e à invasão que ele fez no discurso público; a terceira é também contar com o nosso aparelho legal, que não tem mecanismos para conseguir identificar e agir sobre o tipo de coisas que o partido propõe e diz. E tudo isso verificou-se, os meios de comunicação social falam muito sobre ele desde o início, e os partidos, bem, ele mandou a Joacine para a sua terra, e mesmo os partidos de esquerda ficam no silêncio. E sobre a cena das pessoas ciganas, houve uma reprovação, mas muito leve.
Sobre os partidos de esquerda e o campo progressista, pronto, como é que pensam que têm falhado na contenção deste fenómeno, e o que é que poderiam estar a fazer melhor para lidar com a extrema-direita?
[L.F.] É uma boa pergunta, e isso já deve ter sido respondido por várias pessoas especialistas, que não somos nós. Eu não acho que a ascensão do fascismo ou da extrema-direita seja culpa da esquerda, de todo. Acho que a esquerda faz as suas propostas, se calhar poderia fazê-las de outra forma, mas não é esse o mecanismo que seria responsável, ou não, pelo conter, ou de alguma forma limitar, o crescimento do fascismo. Acho que a delapidação do serviço público, do Estado Social, desempenha um papel importantíssimo nisso — as políticas neoliberais vão sempre de mão dada, e mesmo se olharmos para a Alemanha nazi, era isso que víamos. Os partidos do “centrão”, e particularmente o PS, que está no poder há não sei quantos anos, mas também o PSD e o CDS, foram eles que operaram essa delapidação do Estado Social, que trazem uma série de precariedades e vulnerabilidades às vidas das pessoas, e deixam-nos vulneráveis a este tipo de discursos. Depois, mesmo as próprias escolhas que se fizeram ou não fizeram desde o 25 de Abril dos sucessivos governos, sobre a forma de entender até o próprio 25 de Abril, a democracia, até na formulação dos currículos escolares. Há uma iliteracia política e filosófica fortíssima e, portanto, eu acho que as raízes estão todas aí. Nós tivemos 48 anos de ditadura, e isso não se ultrapassa assim do dia para a noite. Acho que não fizemos, desde o 25 de Abril, trabalho suficiente para que as pessoas possam ter um entendimento mais robusto do que é uma sociedade, do que é um Estado, do que é o papel de cada uma delas, de qual é o papel das pessoas que são votadas para exercer os cargos governativos. Acho que isso está tudo presente, e depois juntar insatisfação, precariedade e vulnerabilidade com ignorância, é claro que é uma junção ótima para virem pessoas que querem cavalgar esse descontentamento e tirar proveitos próprios, que é o que ele faz.
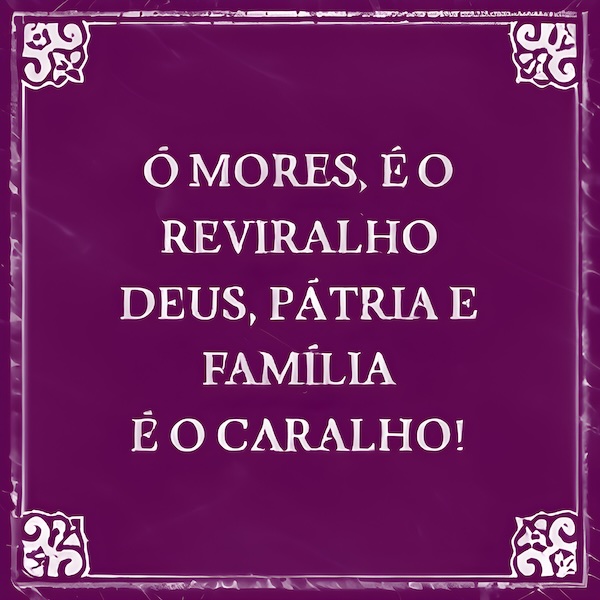
No comunicado que vocês fizeram do lançamento desta música, afirmaram que a classe artística tem o dever de se manifestar e sinalizar a deterioração do discurso público e político em Portugal. Há cerca de três dias, houve um abaixo-assinado de pessoas como Lena d’Água, Joana Vasconcelos e Alice Viera, alertando para as ameaças da democracia e dando o seu apoio ao PS, e figuras como Fausto, Jorge Palma, Fernando Tordo, Sérgio Godinho, Filipe Sambado tu também [Lila] que manifestaram o seu apoio ao Bloco de Esquerda. Vêm estes sinais como positivos?
[J.C.] Qual é a leitura que fazemos? Esta música também serviu para isso, e era uma das intenções, que era lançar um mote também para que mais artistas se posicionassem. Porque sentimos muito que há, fora daqueles circuitos mais marginais, do hip hop… Algumas pessoas que aparecem a fazer música de intervenção — A garota não, a Capicua… — fora desses lugares que não passam na rádio. De uma forma generalizada, a música de intervenção não existe. É muito escassa, é muito parca em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, a fetichização dessa música de intervenção está presente em quase todos os discos novos que saem, que é sobre liberdade, que é sobre a ideia de fazermos o que nós queremos e que nós sentimos.
[L.F.] Mas que é muito individual, não é?
[J.C.] E então meio que é uma coisa mais esvaziada de significado, fica-se com uma ideia muito geral do que é a liberdade.
[L.F.] É neoliberal.
[J.C.] Exatamente. E então foi uma tentativa de chamar, de “’bora lá falar sobre isso, ‘bora lá posicionarmo-nos”. Daqui a um mês e meio, é o 25 de Abril, as câmaras municipais já compraram os espetáculos todos dos artistas mainstream para fazerem as músicas do Zé Mário Branco, do Sérgio Godinho e do Zeca Afonso, e a maior parte desses artistas que vão fazer isso e que se vão posicionar no 25 de Abril e ganhar os seus cachês, ficaram calados este tempo todo enquanto a extrema-direita cresce. Em silêncio. E esse silêncio, cada vez mais, é um silêncio muito político. Em Portugal, nós gostamos muito de ficar em cima do muro. Não nos posicionamos nem para um lado nem para o outro, é um país pequeno, tudo tem consequências, qualquer lado político tem consequências. Mas por outro lado estamos a basear criações artísticas na base da ideia da liberdade, e estamos, de uma forma individualista, a exorcizar essas ideias, mas depois quando é hora para falar e para dar a cara e para nos posicionarmos, é um silêncio absoluto.
Também há medo das pessoas se posicionarem?
[L.F.] Claro. Claro que sim.
[J.C.] Até porque as lógicas daquilo que consideramos como sucesso, a sustentabilidade dos projetos, está muito assente em lógicas comerciais, em lógicas de mercado. E isso interfere muito com esses posicionamentos políticos. A partir do momento em que tu fazes uma posição política muito forte, pública, há muitas câmaras municipais que já não te querem nas festas municipais, há muito público que já não te vai querer ouvir. Tem uma consequência muito clara, na vida artística, comercial e empresarial desses artistas. Isso traz um custo para as suas carreiras também. Compreendo perfeitamente, que as pessoas não se queiram, desse ponto de vista, posicionar.
[L.F.] Depois têm as agências, têm as editoras…
[J.C.] Sim, sabem que isso choca de frente com uma estratégia comercial e o que for. Por isso eu acho interessante confrontar também a classe artística com essas tomadas de posição. Nem é de uma perspetiva quase de culpa ou recriminatória, é mais numa perspetiva de nos olharmos ao espelho e de pensarmos: “Caramba, ‘bora lá agir, o tempo é agora, é hoje, não é quando isto já estiver tudo destruído que nós vamos pensar ou lamentar sobre isso. É agora.” E nós queremos ter uma ação para chamar esses agentes artísticos para uma ideia de agência histórica e política. “Vocês estão a fazer a cultura em 2024 neste território, então ‘bora fazer parte disso, ‘bora existir enquanto agentes artísticos, agentes políticos, históricos, e não ser só uma coisa meio esvaziada e sem sentido concreto, mais profundo.”
[L.F.] Sim. Bem, eu também estou a apoiar o Bloco [de Esquerda] nesta campanha, porque senti que precisava de ter o máximo de envolvimento possível que eu pudesse fazer a partir do meu corpo para influenciar de alguma forma o rumo das coisas, por isso acho fixe que as pessoas e os artistas se manifestem e digam “apoio este partido”, mesmo que seja o PS, enfim. Especialmente com essa lógica, de que, se calhar, algumas pessoas subscrevam essa forma. Também é muito nessa lógica que estavas a dizer, não é? Temos de ter cuidado com este discurso de extrema-direita e votar no PS, que é talvez um caminho mais seguro. Mas isto que o João estava a dizer, eu também achei muito interessante e estivámos a falar sobre isto há uns dias, que é a Câmara Municipal de Lisboa anunciar os concertos principais do 25 de Abril. Então é o B Fachada a cantar Zeca Afonso, o JP Simões a cantar Zé Mário Branco e a Gisela João a cantar músicas de intervenção portuguesas e espanholas. E nós respeitamos muitíssimo estes artistas todos, os vivos e os mortos, mas acho curioso que nos 50 anos do 25 de Abril a Câmara de Lisboa escolha que os concertos principais de celebração são pessoas a cantar músicas de pessoas que já morreram, músicas de há mais de 50 anos e que têm a ver com essa ideia, claro, da oposição ao Estado Novo e do 25 de Abril. Mas não apresentam artistas que fazem música de intervenção hoje em dia, sobre os temas de hoje em dia, que alguns são semelhantes aos de há 50 anos e outros já não são.
Sim, até porque há muitos projetos, por exemplo, Xullaji, Luta Livre, Criatura..
[J.C.] Agora a Cara de Espelho.
Exato, há imensos projetos que falam e acho que também não há valorização suficiente nessa lógica de… Há muita recuperação do antigo…
[J.C. e L.F.] E repetição.
Sim, e isto faz-me um pouco lembrar um discurso que o Gil Dionísio, da Criatura fez na festa do Avante, em que ele dizia “onde é que está o Zeca”? E ele falava no discurso, desta coisa de estarmos sempre à espera do poeta e de alguém que nos vai salvar e de termos um pouco esta figura do D.Sebastião, enquanto depois não valorizamos o suficiente as pessoas que estão aqui, no hoje e agora, e a falar sobre questões de variadas formas e de vários quadrantes.
[L.F.] Sim, e com o tempo, depois as pessoas tornam-se perfeitas. O Zeca Afonso era perfeito, o Zé Mário Branco era perfeito, mas na atualidade, com o que as pessoas estão a fazer, as pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Então é essa a cena que estás a dizer. O que é que esperamos das pessoas artistas que estão a fazer arte de intervenção agora? E eu acho interessante pensar nestas escolhas, de celebrar a memória do 25 de Abril, não com a luta que se faz hoje em dia, que seria a melhor celebração — a luta que se faz hoje em dia, aquilo que retirámos das sementes do 25 de Abril. Só que escolhe-se celebrar com a memória do que as pessoas fizeram antes, que obviamente é importantíssima, mas acho só curiosa essa escolha.
Pegando no que estavam a falar há bocado, vocês escreveram um post em Julho do ano passado, fazendo um desabafo sobre a dificuldade de agendar concertos, em grande parte também pela proposta disruptiva, de denúncia de normas e padrões da sociedade e também a afirmação de um posicionamento político claro. Gostava de perguntar um pouco como é que tem sido a experiência e a gestão de expectativas que criaram sobre, por exemplo, o lançar do vosso álbum e o constatarem que esse espaço não existe da forma que seria desejado.
[J.C.] Eu sinto que nós ficámos com muitas expectativas. Quando lançámos o álbum, foi muito bem recebido pela crítica, no geral, e sentimos que fizemos um álbum bastante rico, que trazia ideias, energias, criações artísticas que ainda não tinham sido feitas, que traziam alguma frescura e novidade. E depois foi interessante perceber como é que isso se refletiu nos concertos, porque a criação artística vive muito também de tu investires tempo, energia, dinheiro, na parte da criação do álbum, e depois esperas um feedback disso através dos concertos, de tocar nas rádios, chegar às pessoas. E para nós foi muito difícil marcar concertos. Demos muito poucos concertos do álbum.
[L.F.] O ano passado demos oito em Portugal.
[J.C.] E então faz-me pensar que claramente há um fosso entre a forma como a crítica recebeu, as nossas expectativas e depois a realidade de marcar concertos. E depois podemos pensar muito sobre porque é que isso acontece, não é? E eu acho que, até mais do que o posicionamento político, cola muito até para a própria forma como o André Ventura pegou nesta resposta à nossa canção, da ideia de Fado Bicha. “Obviamente vocês não vão ouvir isto porque há uma banda que se chama Fado Bicha.” E esta conotação com a ideia de bicha é uma expressão artística dissidente e que se distancia muito da normatividade e daquilo que é construído como belo. As entidades queers, porque não somos só nós, somos toda a classe artística queer e toda a criação artística queer que é feita, pelo menos em Portugal, não encontra lugar em nenhum espaço mainstream ou nenhum espaço de relevância pública em Portugal. Se calhar nós somos das pessoas queers com mais concertos e temos este número de concertos. Porque essa relação com aquilo que é belo, que é desejável, não cabe ainda nesses padrões de recetividade de programadores para marcarem concertos nossos. Nós temos algumas experiências de pessoas que marcaram concertos nossos e que disseram que tiveram muita dificuldade com vereadores da Câmara, com outros programadores da cultura, para conseguir levar até ao fim o nosso concerto. Tiveram muita resistência de muitas pessoas para conseguirem. As pessoas que ainda nos contratarem hoje em Portugal ainda vão ter que lidar com uma resistência e elas próprias com uma espécie de dificuldades.
[L.F.] Nem todas, não é? Em festivais, por exemplo, não acho que isso aconteça. Mas em estruturas públicas, sim. É isto que o João está a reportar, porque com as estruturas públicas depois há as hierarquias e foi muito curioso de ver num concerto em particular, em que o diretor do espaço do teatro queria muito que nós lá fôssemos… Ficámos bem surpreendidas com o convite e fomos, fizemos o concerto e depois, no final, ficámos a falar com ele. E ele partilhou que tinha sido muito difícil, que o Presidente da Câmara ou o Vereador da Cultura não queria, e que até duas semanas antes do concerto, como não tínhamos vendido muitos bilhetes, estavam-lhe a ligar para dizer para cancelar o concerto. E isso mostrou-nos que, para conseguirmos um concerto num teatro municipal, que não fazemos nunca, é preciso uma pessoa que é ela própria queer, que está num lugar minimamente de poder de decisão, porque era o diretor do teatro, e que está a suportar esta resistência toda e a querer levar até ao fim. Ter estas três condições juntas não é fácil. E pronto, foi um grande abanão no ano passado, principalmente para ele, que estava mais otimista. Eu estava mais realista, mas também foi para mim um ano difícil, porque tínhamos expectativas elevadas de termos um espetáculo bonito, termos uma terceira pessoa a tocar connosco. Dentro da cultura portuguesa é uma proposta nova, e acho que é interessante, está bem construída, e tínhamos a expectativa de conseguir mostrar mesmo em mais sítios do país e de fazer mais concertos, e depois, de repente, começámos a perceber, desde o início do ano, que o nosso manager: “Ah, falei com esta pessoa daquele festival e ela não gosta do que vocês fazem, não quer. Ah, o outro também, vocês há dois anos falaram mal do festival porque se contrataram só homens, e como falaram mal do festival, também não vos vai bookar.” E depois é que, pouco a pouco, vais juntando as peças todas, percebendo que a maioria dos sítios onde nós tocamos tem uma pessoa queer na programação. E pronto, isso obviamente que limita muito as possibilidades.
Ainda há muitos gatekeepers?
[L.F.] Ainda há muitos gatekeepers, muito boy cis hétero branco à frente de festivais, agências, a determinar quem é que é relevante, quem é que não é, quem é que entra, quem é que não entra. E isto vale para nós e vale para muitas pessoas. Estamos a falar da nossa experiência porque conhecemos mais de perto. E este ano, o João, entretanto, pensou: “Olha, não consigo lidar com esta vulnerabilidade e sustentabilidade financeira.” E começou um novo projeto noutra coisa diferente, que nem sequer é na música, para tentar chegar a um nível um bocadinho mais sustentável e estável. Mas pensámos: “Então, se não conseguimos pôr concertos, se não conseguimos viver de Fado Bicha, então agora é que vai ser mesmo um ganda foda-se e vamos só fazer aquilo que nós quisermos e que acharmos importante sem estar a pensar — ‘Ah, isto se calhar não é muito bom, se calhar temos de ter mais cuidado aqui, temos de ter mais estratégia.'” E dissemos isso ao nosso manager. Já não estávamos muito preocupadas. E a partir de agora então, vai ser mesmo só…
[J.C.] Putaria [risos].
[L.F.] Só o que nós quisermos e o que nós acharmos importante falar, seja nas músicas, seja no discurso público, e sem estar a pensar se nos vai beneficiar ou não — cagámos.
[J.C.] Só a acrescentar um bocadinho o que a Lila estava a dizer antes, do ponto alto dessa frustração. Eu senti mais isso até no ano passado, no 25 de Abril, nas comemorações. Nós tínhamos lançado o álbum no verão do ano anterior, ou seja, seria o primeiro 25 de Abril que íamos ter e vimos as programações cheias de artistas mainstream que não fazem música de intervenção, nem nunca fizeram, a cantar, estes tais autores de intervenção antigos. E nas câmaras todas, a quantidade de concertos que houve no dia 24 e dia 25 de Abril pelo país inteiro… Não conseguimos um único sítio para tocar. Depois de termos feito um disco basicamente de intervenção, foi muito simbólico e uma resposta também muito forte da parte do sistema a dizer “olha, não dá.”
[L.F.] Não cabem, não é?
Vocês têm sido bastante vocais sobre a ofensiva militar de Israel em Gaza e tem-se também falado de um boicote a Israel no festival da Eurovisão. Vocês inclusive também já fizeram parte do Festival da Canção. Eu gostava de perguntar se vocês acham que Portugal, a comitiva do Festival da Canção, deveria assumir uma posição face à participação deste país no festival.
[L.F.] Claro, desde sempre, e agora então ainda mais. Claro que achamos. A RTP no geral. Olhando para a Eurovisão e vendo como é que funciona, nem sequer esperamos que isso aconteça — claro que esperaríamos e adoraríamos. Mas também esperaríamos que o Estado português ainda pudesse tomar alguma iniciativa muito mais forte e clara em relação ao repúdio pelo ataque genocida que Israel está a fazer, que suspendesse as relações diplomáticas com Israel, mandassem o embaixador de Israel de volta para a terra roubada da família dele e do país dele. Mas nada disso acontece…
[J.C.] Sim, e nós também assinámos aquela carta aberta a pedir isso à RTP. E é muito aquela coisa das pessoas não se quererem posicionar. Ou então posicionam-se sempre numa coisa que é consensual. Porque quando foi em relação à exclusão da Rússia da Eurovisão, foi uma coisa muito consensual. E até bastante rápida de acontecer. E de Israel já se fala há imenso tempo. Pediu-se ao Conan Osiris para não ir também a Israel quando foi a Eurovisão lá. E é muito difícil conseguir que as pessoas se posicionem com coisas que não são esperadas ou que tenham algum custo. As pessoas, e nós próprias também, todas fazemos isso, que é posicionarmo-nos quando não temos nada a perder. A partir do momento em que sentimos que alguma coisa pode comprometer o nosso bem-estar, o nosso conforto, temos muitas reticências em posicionar-nos, em colocar-nos sobre aquilo. Nós tentamos diariamente reverter isso. É muito difícil, mas tentamos sempre fazer essa reflexão de não nos estarmos a colocar porque isso pode ter algum impacto em nós. E eu acho que neste caso concreto, com a Palestina e com Israel, é tudo só sobre isso. Em qualquer país, televisão, governo, embaixada, é sobre isso. É sobre o que achamos que temos a perder, que não tínhamos tanto com a Rússia e que temos agora com Israel.
Voltando outra vez à música que lançaram, há uma parte que claramente se destaca, em que há uma certa passagem de um tom fúnebre e quase melancólico, de denúncia da extrema-direita, para uma batida mexida, animada e de alguma forma desconcertante, em que dizem — “ó ‘mores, é o reviralho / Deus, pátria e família é o caralho”. De que é que é feito este reviralho que é que vocês propõem?
[L.F.] Olha, não sei muito bem. Essa secção veio-me assim, apareceu a Nossa Senhora de Fátima na minha cabeça.
[J.C.] Com um cartaz a dizer o reviralho [risos].
[L.F.] Sim. E é essa ideia de reviralho, de resistência. O reviralho como um movimento muito pouco organizado, de várias pessoas a fazerem coisas diferentes ao longo de alguns anos, para aí 10 anos no máximo, no início na ditadura militar, a seguir a 1926, e depois no início do Estado Novo. No fundo, recuperar um bocado essa ideia de ter medo que estejamos numa deriva política, com alguns pontos em comum com a situação de há 100 anos. Não acho que isso seja de todo impossível de acontecer. Aliás, os sinais de devoção e inspiração no Estado Novo já nem sequer são escondidos. Já usam o “Deus, pátria e família” há imenso tempo e há uma ideia de inspiração no Estado Novo e da Terceira República. As cartas estão na mesa. E é um bocado essa ideia de recuperar uma noção de resistência, e o reviralho como um símbolo. E porque rima com caralho, é ótimo. E depois também essa cena de mandar o Deus, pátria e família para o caralho. É tipo: “Como assim?! No século XXI há um partido político que vai buscar o ‘Deus, pátria e família’ outra vez?” E também é curioso, eu acho, que se calhar muitas das pessoas que já aceitaram o “Deus, pátria e família” há cinco anos achariam: “Ok, pronto, eu sou conservadora, mas também não vale a pena ir buscar as coisas do Salazar”.
[J.C.] Até diria que há cinco anos atrás dissessem assim: “Epá, não vais buscar isso porque isso vai ser demasiado forte e as pessoas vão-se afastar logo. Vão dizer logo que é fascista…” E agora já passa.
[L.F.] Foi de escadinha a escadinha. O que estavas a dizer há bocado. Vai aqui um bocadinho e normaliza-se. Depois vai mais um bocadinho, mais um bocadinho. E o mandar o “Deus, pátria e família” para o caralho é mesmo essa cena de: “Como assim?! Foda-se. Como é que se vai repescar isto outra vez?! Como é que isto é uma questão outra vez?!” Eu lembro-me, devia ter para aí vinte e poucos anos, da primeira vez na minha vida que eu tive a consciência de… Porque até aí eu achava que o progresso era uma linha contínua — podia ser muito devagar, mas se chegavas a determinado ponto, esse lugar estava garantido; para mim era assim que funcionava. E lembro-me perfeitamente de haver um dia em que pensei que cada coisa pode sempre reverter, voltar atrás. E é uma luta constante para manter tudo aquilo onde chegámos, e esse “Deus, pátria e família é o caralho” é mesmo uma raiva. Até voltando à tua pergunta das emoções: é uma e frustração imensa de, com tanta coisa que temos para resolver — de coisas que estão mal no país, na atualidade, na memória, na forma como nos pensamos, na sociedade —, ainda temos de estar a reverter, para estar a discutir coisas básicas. É mesmo frustrante.
[J.C.] Sim, e eu sinto que essa de revirar “Deus, pátria e família é o caralho” também é o nomear, porque estamos todos a falar sobre isto sempre de uma forma muito…
[L.F.] Envergonhada?
[J.C.] Envergonhada, nos debates televisivos, como é sempre uma coisa muito…
[L.F.] Muito ponderada. E parecia que faltava dizer “Deus, pátria e família é o caralho”: trazer a gravidade para aquilo que é e não estar sempre a suavizar ou dizer que é um partido democrático — é o caralho! Então, essa coisa de trazermos para uma música e ficar escrito, é uma raiva. Ficar isso dito, cantado e gravado, acho que também é muito libertador. E a partir daqui também puxamos a corda para o nosso lado. E sim, nós não somos políticas, somos artistas, por isso é outra linha, de discurso mesmo, e sentimos que na música precisávamos mesmo ter esse momento. Já temos os gritos e não sei quê. Mas precisávamos ter esse momento de, mesmo de…
Libertação, de alguma forma.
[L.F.] De libertação. Sim. Rasgar essa passividade.